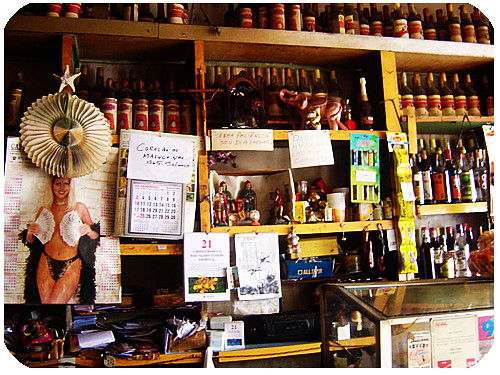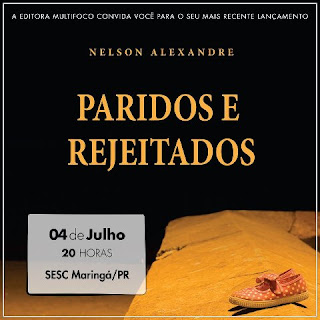*João Gustavo

Falta muito pra Aracaju? A
sonoridade do questionamento permaneceu por alguns instantes ao nosso redor,
como que ricocheteando em nossos joelhos, nos óculos escuros, nas camisetas;
uma pergunta sutilmente agressiva, talvez – ou impaciente, provável. Estávamos
com as garrafas de cerveja ainda geladas, sob efeito da última história
engraçada resgatada, animados com o reabastecimento do veículo. Próxima do
posto de combustíveis, a pousada parecia serena, o almoço avizinhava-se
robusto. Cogitávamos, naquela certeza de que iríamos fazê-lo, pedir uns pratos
e comer por lá, experimentar do cheiro da moqueca e puxar papo com duas
turistas paulistanas que tínhamos conhecido minutos antes, na lojinha de conveniência.
O momento pra fazer aquele tipo de indagação não estava entre nós, apenas nela.
Não é por mal é só pra saber mesmo. Foi respondida qualquer coisa que a
confortou, fomos almoçar e só uma das turistas paulistanas acabou por dar
brecha; a outra era cheia de assuntos e de gestos, primeira vez que ia ao
Nordeste sem que ficasse em Salvador ou em Fortaleza, hospedava-se sempre
naquele hotel perto daquele barzinho perto do circuito Barra/Ondina, sabe?
Nenhum de nós três sabia, mas pelo jeito era um hotel estrelado e conhecido,
ela insistiu em descrevê-lo umas duas vezes e em citar o sobrenome de pessoas
que usualmente o frequentavam. Enquanto engolíamos caipirinha, suco de laranja,
camarão e o quase monólogo da moça, o outro se divertia com a outra dentro do
nosso carro – e isso fazia com que a remanescente da dupla parecesse ainda mais
indigerível. Foi aí que ela resolveu se redimir; não ela, a metidinha, a outra,
a questionadora; pediu uma caipirinha no capricho, pouco gelo e bastante limão.
A bebida chegou, no ponto, e ela exigiu que a paulistinha a tomasse toda. Após
alguma recusa boba, terminou por beber tudo, lambendo os lábios. E que
lábios... Um de nós chegou junto, o beijo rolou ali mesmo, diante de mim e da
perdoada; assim ele vai ficar com ciúmes... e me sobrou um beijo; eu também vou
ficar... aí foi a vez de as duas se encontrarem. Olhei pro meu amigo e
decidimos que aquele era o momento. Mas queríamos a novidade, como fazer? Quero
com nós quatro só se for assim, exigiu a faladeira, reinventada. Ao mesmo
tempo? soltei, meio de imediato, e elas só souberam rir, consideraram meu
questionamento totalmente dispensável. Meu amigo perguntou quanto era o quarto
só pra passarmos uma hora ou hora e meia, o rapaz respondeu, passou-nos uma
chave, entramos no recinto, despimo-nos. As duas estavam mais à vontade,
brincavam na cama, sorriam pra gente. Acho que vou precisar de mais uma
garrafa, ele brincou, nervoso, ainda estávamos de cueca. As duas nos puxaram
pra cama e nos puseram nus. Pra mim Aracaju é aqui mesmo, sussurrou a
arrependida no meu ouvido, antes de colar sua boca à minha.
No hostel de Salvador conhecemos
uma francesa que nos deixou encantados. Os três ficavam se exibindo,
pavoneando. Ainda tínhamos a dupla de garotas conosco. Foi num bar que a menina
se decidiu por um de nós – ficamos eu e o outro com um sentimento estranho que
era misto de derrota e ciúme. Uma das duas que fazia parte do grupo chegou no
outro rejeitado; eu fui buscar uma bebida e acabei conhecendo uma mineira que
fez valer a noite. Na manhã seguinte a francesa nos pareceu um pouco avariada,
falava que iria se mudar pra capital baiana naquele mesmo mês, que iria morar
conosco, a gente avisava que não residia ali, éramos inclusive de outro estado,
ela dava risada e dizia que éramos muito legais, ficávamos um olhando pra cara
do outro mas achávamos divertidas as tentativas dela pra falar em português. A
mineira foi à praia também, mas não teve simpatia por uma das meninas do grupo,
preferiu ficar na dela. A outra, a que foi pra cima do terceiro elemento
masculino, estava com os olhos vermelhos de quem chorou, frise-se, de quem
chorou bastante. Meu amigo a rejeitara. Quando eu e o outro tomamos consciência
disso, a tarde soteropolitana adquiriu ares de charada, de aposta, de dúvida.
Nosso amigo a rejeitara. Isso não podia ter acontecido, concluímos
provavelmente ao mesmo tempo; dentro do círculo que preza pela não existência
de qualquer compromisso, a rejeição entre nós era o avesso da regra, era o
descumprimento, era a sinalização de uma hesitação sem propósito, de uma
liberdade atingida por algum ingrediente extrínseco, alheio à conduta original.
Olhamos pra ele, talvez ao mesmo tempo, e ele apenas sorriu, um sorrisão
bonito, de quem está ali na nossa frente só pra não ser entendido, só pra
funcionar como mistério besta, só pra que nós mesmos pudéssemos perceber que
também há liberdade em agir assim, sem explicações, sem obviedades. E eu tive
medo de que um dia o meu amigo não tivesse mais motivos pra sorrir daquele
jeito. Ao me conscientizar dessa sensação, perdoei-o e comprei um sorvete de
abacaxi pra rejeitada, sabor favorito dela, só pra fazê-la feliz e deixar meu
amigo em paz.
Em Recife restávamos apenas nós
três, os homens. Conhecemos uma carioca e uma goiana muito interessantes e uma
espanhola quase bem interessante. Terminei a noite com a moradora da Gávea. Na
tarde seguinte, no museu, um deles deu em cima da minha, quase descaradamente.
Não entendi muito bem, achei que estávamos numa boa, preferi fingir que não era
comigo. Mas a garota gostou do papo e foi com ele sei lá pra onde. Não perdi
tempo e fui pra cima da espanhola, só pra não ficar mal. Mas o joguinho logo me
cansou e vi que não dava futuro. Fomos pra parte nova da cidade e resolvi,
junto com o outro e a goiana e a espanhola, encher a cara. Esse é o melhor sotaque
do país, eu repetia, já bêbado, toda vez que escutava um pernambucano da
capital falar perto de mim. A espanhola dava umas risadinhas com os olhos bem
abertos, ficava esquisita quando assim fazia, eu quase falei isso, mas optei
por não chateá-la, era uma menina tranquila, paguei mais um chope pra ela. Meu
amigo pediu uma garrafa de água mineral e disse pra eu beber. Fui desobedecer,
mas ele fez uma cara séria e eu bêbado preferi não contrariá-lo. Depois, quando
terminei e olhei pra espanholinha do meu lado, toda sorridente e feliz por
estar comendo um camarãozinho no limão, pra goiana, toda bela e ao mesmo tempo
simples, direta, palpável, dona de uma voz muito agradável, pro barzinho, apinhado
de recifenses e turistas gesticulando, conversando, dando risada, pro movimento
da rua e daquela cidade, e pra mim mesmo, inserido ali, naquele momento,
naquele tempo, naquele espaço, enchi meus olhos d´água. Quando olhei pro meu
amigo, percebi que ele descobrira esse meu passeio visual, que na verdade era
um passeio pra um dentro de mim misturado com o fora de mim, e aguardava o
desfecho, todo paternal, todo cúmplice. Comecei a dar risada, uma risada
frouxa, abobada, quase com lágrimas, e ele apenas disse pras garotas, que me
olhavam com uma vergonhazinha amigável, que eu estava bêbado, que elas podiam
me esquecer por alguns minutos. Parecia mesmo um pai que flagra o filho numa
arte ingênua. Ou um irmão mais velho.
A conversa se deu um pouco antes
da primeira deserção – talvez poucos minutos de diferença. Estávamos sentados,
magnetizados pela intensa movimentação do mercado municipal, apreciando o ir e
vir cotidianamente natural e de fácil vocação pra espetáculo. O senhor
paraibano ao nosso lado, distante de seu estado de origem, nos explicava, com
alguma prolixidade melodiosa, o motivo de estar ali. As garotas não pareciam
muito interessadas, demonstravam uma ausência contemplativa quase absoluta,
tragadas pela visualização. Tinha três sorveterias no lugar, todas rentáveis,
uma esposa, sergipana, e três filhos, dois homens e uma mulher, estudados,
formados, dois netos, os dois meninos, dois automóveis, casa própria. Fugira –
usou esse termo – da cidade de origem porque havia se envolvido com uma mulher
casada, uma antiga namorada, uma paixão estendida; lá se iam muitos anos. Foi
embora não porque o marido dela os havia descoberto ou porque não conseguiu
sustentar uma mera relação clandestina – deixou o lugar porque sempre o quisera
fazer, sempre. O que sentia pela mulher era pouco perto do desejo que
alimentava, desde muito cedo, desde muito antes, de sair dali, de correr dali,
de sumir dali. A cidade era boa, frisou, talvez esteja ainda melhor atualmente,
mas não o enfeitiçava, não o consumia, não o esgotava, não o apaixonava, não o
forçava a nada, a nada em absoluto – era uma cidade que não me imprimia alma, disse-nos,
olhando-nos com olhos bons, fortes. Eu era jovem e tinha muita sede de vida
muita urgência muita vontade muito desejo de ganhar vigor e consistência e
espírito, respirou fundo, e isso eu não encontrava lá. Ficamos na dúvida se
aquilo tudo era um lamento de saudade, de arrependimento, um desabafo
melancólico. Ao nos perceber imersos nessa busca pelo entendimento, pela
motivação que o orientava, deu-nos uma expressão facial inesquecível de
franqueza, gratidão e segurança e segurou o braço de um de nós como se
estivesse segurando os três, hoje eu posso dizer que vivi, aplicou um tapinha
leve no ombro do outro, e isso é muita muita coisa pra se dizer só com o
corpo.
Tínhamos acabado de deixar Porto
Seguro, abastecíamos pra poder seguir viagem. Aqui ainda éramos cinco. Havia um
clima entre os dois. Aquilo me atraía, de alguma forma. De alguma maneira não
muito entendida, a sintonia que ela tinha com ele era diferente daquela que
dedicava a mim e ao outro, e não era algo deliberado, pensado pra; simplesmente
era, o que me deixava ainda mais inquieto. Funcionávamos bem, todos. Camisetas,
bermudas, óculos escuros, música pro carro inteiro ouvir, histórias várias, camisetas,
shortinhos. Éramos a luminosidade, a essência viva do presente, a chama
incandescente da fogueira à beira-mar, a existência na sua forma mais solar, a
atração, o desejo, a instância máxima do viver. Éramos – e, sim, sabíamos disso
o tempo todo, o que fazia tudo ser ainda mais intenso, mais verde, mais azul,
mais sabor. As estradas nos pareciam sorrir, assim como as serras, as praias,
as pousadas, os postos de combustíveis, os bares, as casas, os centros
históricos, os prédios, as pontes, as cidades. Tudo nos saudava, tudo nos
valia, tudo nos pertencia. Proprietários do caminho e do veículo que nos
conduzia naquela viagem quase etérea, quase única, quase última. Cantávamos,
bebíamos, as rodas do carro nos conduzindo para as localidades que desejávamos
conhecer, pro descobrimento, pro viver, pro viver, pro viver viver viver, verbo
conjugado à exaustão em cada quilômetro percorrido por aquele carro, em cada
parada, em cada passeio, em cada hospedagem, fosse na Bahia, em Pernambuco, na
Paraíba, em cada conversa, em cada novo encontro, em cada lugar. Tudo era
nosso, tudo era muito nosso. Menos aquilo que havia entre os dois. Aquilo era
deles, só deles – e isso me incomodava. Fugia às nossas convenções, fugia às
nossas dimensões, fugia à nossa plenitude – algo deles, não compartilhado com
os outros, apenas dele e dela. Dela. Foi numa parada de divisa de estados, ou
quase isso, que eu aproveitei uma distração e a beijei. Correspondeu, como
sempre, mas eu queria daquele jeito, daquele jeito que ela fazia com ele e só
com ele. Talvez ela tenha entendido e, por ter muito carinho por mim e por não
querer estragar nada, esforçou-se e ele percebeu. Não foi igual, eu sei que
não, mas tudo ficou muito claro, muito às vistas, e ele ficou meio chateado,
não entendeu o porquê daquilo, se era algo que havia partido dela ou de mim.
Fiquei mal depois, culpei-me pela mesquinhez gratuita, pela desnecessidade, nem
fui ao forrozinho pé de serra daquela noite, fiquei na varanda, deitado na
rede. Ele veio, meio apressado, e perguntou vai lá não? tá todo mundo te esperando.
Não vou não, respondi quase silenciado, me senti um moleque fazendo pirraça quando
é o próprio quem cometeu a falha. Vamo lá cara deixa de fazer doce. Levantei da
rede e olhei pra ele. Tava com uma cara um tanto feliz, um tanto séria, e eu
quis dar um abraço, mas permaneci parado. Vamo logo seu otário, ele soltou meio
depressa, meio risonho, isso aqui é pra nunca mais e a gente tá aí todo dia.
Acabei por calçar o chinelo e fui pra festinha improvisada, o sanfoneiro fazendo
a algazarra pro pessoal. A gente tá aí todo dia, repeti, e ele bateu no meu
ombro. Fomos. E a noite demorou a clarear.
 Era
uma tarde na piscina, eu estava do lado de fora sem meu colete. Minha prima me
empurrou e eu não sabia nadar. Lembro de me sentir alarmado, mas não com medo,
e dos azulejos. Não sei quanto tempo demorou até a Jane me tirar da água. A
macaca Jane. Ela era uma menina de dezessete anos que veio do Maranhão para
morar na casa de um casal de jovens e seus dois filhos. Ela cuidava da gente
enquanto nós muito provavelmente externalizávamos um preconceito tão arraigado
que parecia nato.
Era
uma tarde na piscina, eu estava do lado de fora sem meu colete. Minha prima me
empurrou e eu não sabia nadar. Lembro de me sentir alarmado, mas não com medo,
e dos azulejos. Não sei quanto tempo demorou até a Jane me tirar da água. A
macaca Jane. Ela era uma menina de dezessete anos que veio do Maranhão para
morar na casa de um casal de jovens e seus dois filhos. Ela cuidava da gente
enquanto nós muito provavelmente externalizávamos um preconceito tão arraigado
que parecia nato.